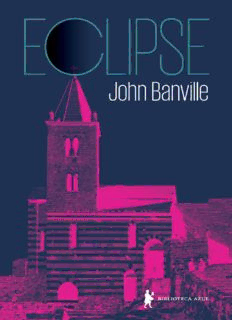
Eclipse PDF
Preview Eclipse
Eclipse John Banville Tradução Celso Mauro Paciornik Copyright da tradução © 2014 by Editora Globo S.A. Copyright © 2000 by John Banville The right of John Banville to be identified as the author of this work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act. 1988 Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta edição pode ser utilizada ou reproduzida — em qualquer meio ou forma, seja mecânico ou eletrônico, fotocópia, gravação etc. — nem apropriada ou estocada em sistema de banco de dados sem a expressa autorização da editora. Texto fixado conforme as regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (Decreto Legislativo no 54, de 1995). Título original: Eclipse Editor responsável: Estevão Azevedo Editor assistente: Juliana de Araujo Rodrigues Editor digital: Erick Santos Cardoso Preparação: Ana Paula Gomes Revisão: Tomoe Moroizumi, Jane Pessoa Diagramação: Jussara Fino Capa: Tereza Bettinardi Imagem de capa: Olaf Protze/Getty Images cip-brasil. catalogação na publicação sindicato nacional dos editores de livros, rj B171e Banville, John, 1945- Eclipse / John Banville; tradução Celso Mauro Paciornik. 1. ed. – São Paulo: Editora Globo, 2014. Tradução de: Eclipse isbn 978-85-250-5785-3 1. Romance irlandês. i. Paciornik, Celso Mauro. ii. Título. 14-13138 cdd: 828.99153 cdu: 821.111(415)-3 Direitos exclusivos de edição em língua portuguesa para o Brasil adquiridos por Editora Globo S.A. Av. Jaguaré, 1485 05346-902 São Paulo-SP www.globolivros.com.br Sumário Capa Eclipse Créditos Dedicatória I De início era uma forma. Ou nem mesmo isso. É assim que eu desperto agora, Não era a primeira vez que eu via um fantasma nesta casa II Há um pandemônio entre as gaivotas, Sempre me pareceu uma desgraça que O que devo fazer a respeito desta garota III Faço uma pausa, como seria o dever de um cronista A vida, a vida é sempre uma surpresa IV É a manhã seguinte, e há muita agitação É curioso o quanto sou estranho nesta cidade V Ruge-ruge, e a cortina sobe para o último ato Notas in memoriam Laurence Roche I De início era uma forma. Ou nem mesmo isso. Um peso, um peso extra; um lastro. Eu o senti naquele primeiro dia no campo. Era como se alguém houvesse silenciosamente acertado o passo ao meu lado, ou melhor, dentro de mim, alguém que era distinto, um outro, e ainda assim familiar. Eu estava acostumado a criar personagens, mas isto, isto era diferente. Parei, surpreso, surpreendido por aquele frio infernal que eu viera a conhecer tão bem, aquele frio paradisíaco. Aí, um leve adensamento no ar, uma momentânea oclusão da luz, como se alguma coisa passasse despencando na frente do sol, um menino alado, talvez, ou um anjo caindo. Era abril: pássaro e planta, cintilação prateada de chuva chegando, céu vasto, as nuvens glaciais em monumental progresso. Eis-me ali, o assombrado, em meu quinquagésimo ano, subitamente atacado, no meio do mundo. Estava assustado, como bem poderia estar. Imaginei tantos sofrimentos; tantas exaltações. Eu me virei, olhei para a casa e vi o que tomei por minha mulher parada à janela daquilo que um dia foi o quarto de minha mãe. A figura estava imóvel, olhando fixamente na minha direção, mas não direto para mim. O que será que ela via? O que estaria vendo? Por um breve instante, eu me senti diminuído, um elemento incidental naquele olhar, receptor, por assim dizer, de um olhar de relance, ou de um beijo de escárnio soprado. O dia refletido no vidro fez a imagem na janela tremeluzir e sumir; era ela ou apenas uma sombra em forma de mulher? Comecei a percorrer o terreno irregular, refazendo meus passos, com este outro, meu invasor, caminhando com determinação dentro de mim, como um cavaleiro em sua armadura. A caminhada era traiçoeira. O capim agarrava meus tornozelos e havia buracos na terra embaixo do capim, produzidos pelos cascos de reses imemoriais quando esta borda da cidade ainda era campo aberto, que me fariam tropeçar, talvez quebrar um dos inúmeros ossos delicados que dizem haver no pé. Um acesso de pânico me nauseou. Como, eu me perguntei, como poderia permanecer aqui? Como poderia ter pensado que poderia permanecer aqui, absolutamente só? Bem, tarde demais agora; terei de passar por isto, agora. Foi o que disse a mim mesmo, murmurei em voz alta: terei de passar por isto, agora. Senti então o cheiro fraco da maresia e estremeci. Perguntei a Lydia o que ela estivera olhando. “O quê?”, ela disse. “Quando?” Fiz um gesto. “Da janela, lá no alto; você estava olhando para mim.” Ela me deu aquele olhar mortiço que havia desenvolvido ultimamente, puxando o queixo para baixo e para dentro, como se estivesse engolindo lentamente alguma coisa. Disse que não havia estado no andar de cima. Ficamos em silêncio por alguns instantes. “Não está com frio?”, perguntei. “Eu estou com frio.” “Você está sempre com frio.” “Noite passada sonhei que era criança e estava aqui de novo.” “Claro; você jamais saiu daqui, de verdade.” Que bela vocação para o pentâmetro tem a minha Lydia. Foi a casa em si que me atraiu para voltar, que enviou seus oficiais de justiça secretos para me convidar a voltar... para casa, eu ia dizer. Na estrada, num crepúsculo de inverno, um animal surgiu na frente do carro, acuado e, contudo, aparentemente sem medo, dentes arreganhados e olhos faiscando ao clarão dos faróis. Havia brecado por instinto antes de registrar a coisa, e me quedei atônito, cheirando as emanações mefíticas da fumaça de pneu e ouvindo meu sangue martelar minhas orelhas. O animal fez um movimento como se fosse fugir, mas ficou novamente imóvel. Quanta ferocidade naquele olhar, os olhos elétricos, um vermelho de neon irreal. O que era? Doninha? Furão? Grande demais para estes, mas não para uma raposa ou cachorro. Apenas alguma coisa selvagem desconhecida. Depois, correndo com o corpo abaixado, aparentemente sem pernas, ele se foi em silêncio. Meu coração palpitava ainda. A mata se curvava para dentro em cada um de meus lados, marrom-escura contra um último e tênue resplendor do dia agonizante. Por quilômetros eu estivera viajando numa espécie de torpor e agora achei que estava perdido. Quis virar o carro e voltar por onde viera, mas alguma coisa não me deixou. Alguma coisa. Apaguei os faróis, apeei com dificuldade e fiquei parado na estrada, confuso, o úmido lusco-fusco me envolvendo, apoderando-se de mim. Desse morro baixo, o terreno à frente mergulhava em sombras e névoas sob a luz crepuscular. Um pássaro invisível nas ramas acima de mim emitiu um crocito cauteloso, uma plaqueta de gelo no acostamento molhado estalou como vidro sob o meu calcanhar. Quando suspirei, um bafo ectoplásmico persistiu diante de mim por um breve instante como um segundo rosto. Andei até o topo do morro e avistei a cidade, suas poucas luzinhas bruxuleantes e, além, a cintilação mais fraca do mar, e soube aonde inadvertidamente havia chegado. Refiz o percurso, me coloquei de novo atrás do volante e guiei até o topo da colina, onde desliguei o motor, apaguei os faróis e deixei o carro rodar pelo longo declive num silêncio entrecortado pelos solavancos, em devaneio, até parar na praça, diante da casa que se erguia em sua escuridão, abandonada, as janelas todas às escuras. Todas, todas às escuras. Quando estávamos parados, juntos, em uma dessas mesmas janelas, tentei contar o sonho a minha mulher. Havia lhe pedido para vir comigo, para examinar a velha casa, eu havia dito, ouvindo o tom bajulador de minha voz, para ver, assim eu falei, se ela achava que a casa poderia ser deixada novamente habitável, se um homem poderia morar nela, sozinho. Ela riu. “É assim que espera curar seja lá o que supõe estar errado com você”, ela disse, “correndo de volta para cá dessa maneira, como uma criança que ficou com medo e quer a mamãe?” Ela disse que minha mãe estaria se revirando no túmulo. Duvidei. Mesmo em vida, ela nunca fora boa de alegria, minha mãe. Quem começa rindo acaba chorando, era um de seus ditados. Enquanto descrevia meu sonho, Lydia escutava com impaciência, observando o céu borrascoso de abril sobre os campos, aconchegada em si contra o ar úmido da casa, as asas do seu nariz empalidecendo quando ela suprimia um bocejo. No sonho, era manhã de Páscoa, e eu criança estava parado à porta da frente olhando para a praça molhada pela chuva recente, ofuscada pela luz do sol. Pássaros esvoaçavam, piando, uma brisa soprou e as cerejeiras já em floração estremeceram em antecipação primaveril. Podia sentir o frescor do ar livre no meu rosto, podia sentir vindo do interior da casa os cheiros de manhã de dia festivo: roupas de cama mofadas, exalações de chá, as cinzas carbonizadas do fogo da noite anterior e alguma coisa redolente de minha mãe, algum aroma ou sabão, um travo de madeira. Tudo isso no sonho, e tão nítido. E havia presentes de Páscoa, enquanto eu estava parado à porta eles eram um fulgor palpável de felicidade às minhas costas nas profundezas da casa: ovos que minha mãe-de-sonho havia esvaziado e depois enchido de algum modo com chocolate — esse era outro cheiro, o cheiro tênue de chocolate derretido — e uma galinha de plástico amarela. “Uma o quê?”, disse Lydia com um ronco beirando a risada. “Uma galinha?” Sim, eu disse com firmeza, uma galinha de plástico de pé sobre pernas delgadas, e quando se pressionava seu dorso ela punha um ovo de plástico. Eu podia vê-la no sonho, podia ver a barbela moldada, o bico rombo e ouvir o clique quando a mola era liberada dentro do pássaro e o ovo amarelo descia aos solavancos pela canaleta e se estatelava na mesa, oscilando. As asas batiam, também, com estrépito, quando o ovo estava saindo. O ovo era composto de duas metades ocas coladas levemente desniveladas. No sonho, eu podia sentir com a ponta dos dedos as bordas agudas gêmeas em cada lado. Lydia me olhava com um sorriso irônico, zombeteiro, sem afeto. “E como é que ele volta para dentro?”, perguntou. “O quê?” Ultimamente eu vinha tendo dificuldade de compreender as coisas mais simples que as pessoas me diziam, como se o que elas estivessem falando viesse numa forma de linguagem que não reconhecia; entendia as palavras, mas não conseguia juntá-las num sentido. “Como é que você coloca o ovo de volta na galinha”, ela disse, “para ele sair de novo? Neste sonho.” “Não sei. Ele simplesmente... é empurrado para dentro, imagino.” Agora ela riu, nitidamente. “Bem, o que o dr. Freud diria.” Eu suspirei, zangado. “Nem tudo é...” Suspiro. “Nem tudo...” Desisti. Ela ainda me mantinha preso por considerações afetuosas depreciativas. “Oh, sim”, ela disse. “Às vezes uma franga é apenas uma franga — exceto quando é uma galinha.” Agora nós dois estávamos zangados. Ela não conseguiria compreender por que eu queria voltar para cá. Disse que era mórbido. Disse que eu devia ter vendido o lugar há muitos anos, quando minha mãe morreu. Fiquei em silêncio, emburrado, sem oferecer defesa; não tinha nenhuma a oferecer. Como poderia lhe explicar os chamados que recebera na estrada naquela véspera de inverno, quando não poderia explicá-los a mim mesmo? Ela esperou, ainda me observando, depois ergueu os ombros e virou-se de novo para a janela. É uma mulher bonita, de ombros largos.
Description: