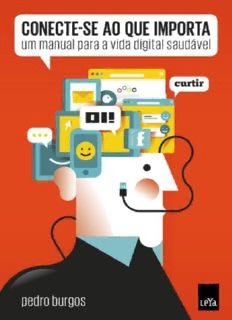
Conecte-se ao que importa: um manual para a vida digital saudável PDF
Preview Conecte-se ao que importa: um manual para a vida digital saudável
Ficha Técnica Copyright © 2014 Pedro Mendonça Burgos Todos os direitos reservados. Diretor editorial: Pascoal Soto Editora executiva: Tainã Bispo Produção editorial: Pamela J. Oliveira, Renata Alves, Maitê Zickuhr Diretor de produção gráfica: Marcos Rocha Gerente de produção gráfica: Fábio Menezes Preparação de texto: Marleine Cohen Revisão: Iracy Borges Capa: Mateus Valadares Ilustração de capa: Stefano Marra Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Angélica Ilacqua CRB-8/7057 Burgos, Pedro Conecte-se ao que importa : um manual para a vida digital saudável / Pedro Burgos. – São Paulo : LeYa, 2014. Bibliografia ISBN 9788580447583 1. Tecnologia da informação 2. Redes de relações sociais 3. Internet 4. Tecnologia e civilização I. Título 13-1047 CDD 004.6 Índices para catálogo sistemático: 1. Internet – aspectos sociais 2014 Texto Editores Ltda. [Uma editora do Grupo LeYa] Rua Desembargador Paulo Passaláqua, 86 01248-010 – Pacaembu – São Paulo – SP www.leya.com.br Dedicatória Para Nina, por todo o amor. Para meu pai, por me ensinar o valor de conhecer melhor a tecnologia. E a minha mãe, por me inspirar a compreender e amar as pessoas. Apresentação “A gente devia fazer isso mais vezes.” É a minha e possivelmente a sua despedida padrão, parecida com o “vamos combinar outro dia”. É uma frase que eu ouvi e me peguei falando ou pensando inúmeras vezes nos últimos anos. Em várias situações: depois de um jantar com amigos em casa, de uma peça de teatro sensacional, de assistir a um desses filmões de cinema com amigos que apreciam os mesmos heróis, depois de uma manhã no parque jogando basquete com estranhos, de ler um romance incrível ou de ficar sozinho apreciando a grandiosidade da natureza. Inevitavelmente, depois de coisas legais assim, é o que eu penso. E se estou com alguém, o meu sorriso é sempre correspondido: “É, precisamos”. Comecei a perceber que há algo que une as experiências que “precisamos fazer mais vezes”, as que ficaram na memória com detalhes e gosto de quero mais: são coisas, digamos, reais, em lugares reais, que você pode apreciar não apenas com os olhos, mas com todos os sentidos. Seja com outras pessoas ou sozinho, prestando toda a atenção. Isso parece óbvio, se pararmos para pensar. Mas por que, então, estamos favorecendo – inconscientemente ou não – a realidade mediada pelas telas de diversos tamanhos, que nos acompanham desde que acordamos até pouco antes de dormir? Nos últimos anos, vivi alguns episódios bem interessantes, que aconteceram diante do computador ou da telinha do celular, mas, quando parei para contabilizar os melhores momentos da minha vida recente e pedi para outras pessoas fazerem o mesmo, percebi que as novas tecnologias nunca estiveram em primeiro plano, por mais conectada que a pessoa estivesse. Daqui a alguns anos, não vou lembrar se a longa conversa que tive com um amigo outro dia foi combinada pelo Facebook ou por telefone, se usei o Google Maps para chegar ao local ou se o aparelho que tinha em mãos quando vi a mensagem “estou chegando” era um Android ou um iPhone. As novas tecnologias estavam lá o tempo todo, e elas são importantíssimas. Mas elas são mais importantes quando nos conectam ao que importa. A “boa tecnologia é a que está basicamente invisível”, diria Steve Jobs. O objetivo de todo o aparato tecnológico é (ou deveria ser) servir como meio para crescermos como pessoas, não como um fim em si. Passamos da era do computador pessoal para a do computador íntimo, o das telinhas que nos acompanham e nos conectam a tudo e a todos o tempo inteiro. É hora de colocar o smartphone sobre a mesa, no silencioso, e refletir sobre o que ele representa. A vontade de escrever sobre o assunto surgiu no início de 2011, depois da melhor viagem da minha vida, precedida por alguns momentos de estresse absoluto, em que passei o tempo todo checando emails no celular e participando de inúmeras discussões online. Estava de férias, no deserto do Atacama. Longe da minha cidade e do trabalho, tive tempo de ler livros e artigos que tratavam dos efeitos de algumas tecnologias sobre as pessoas – e, o mais importante, pude meditar sobre eles. Comecei a observá-los em mim: conectado, o tempo todo, a um celular de distância dos amigos e do trabalho, estava mais ansioso, menos atento, com menos tempo, menos sociável (apesar dos mais de 2 mil amigos nas redes sociais) e, em última instância, mais gordo. É difícil dizer que minha vida estava pior “por causa da tecnologia”, pois há dezenas de benefícios nisso tudo e, convenhamos, temos uma certa tendência em eleger grandes culpados pelos males da humanidade. Toda geração elege seu grande mal do século: se hoje existem os “perigos da hiperconectividade”, há 15 anos era lançado um novo livro sobre “como combater o estresse” por dia. E, durante a gestação do livro, para cada pessoa que reconhecia haver algo de errado na maneira como lidamos com os nossos aparatos, havia outra para dizer que o problema “não é da tecnologia, mas das pessoas”. O que é quase certo. A culpa de recebermos emails de trabalho no fim de semana, quando estamos no cinema, por exemplo, é da cultura workaholic de chefes sem empatia e da linha cada vez mais tênue que separa a vida pessoal da profissional. Mas enquanto não podemos mudar estruturas capitalistas, podemos desligar as notificações do celular por mais tempo e chegar quase ao mesmo resultado. O ponto aqui não é demonizar os nossos smartphones, mas entender as consequências de um modo de viver onde eles são peça fundamental no cotidiano de cada vez mais pessoas, e como fazer, enfim, para usar a conexão para o que importa. Há motivos bem estabelecidos e embasados na Ciência para explicar por que ficamos tão felizes diante de situações que alguns chamariam de reais. Sim, parece que precisamos que algum cientista explique por que o abraço de alguém querido é importante (oxitocina!) e por que precisamos sair mais para fora (pela vitamina D, pelo menos). Da mesma forma, já sabemos agora como o cérebro é enganado para acreditar que a simulação da realidade – o amigo curtindo uma foto sua em vez de uma pessoa sorrindo enquanto você relata uma viagem – nos parece suficientemente legal e nos traz uma efêmera alegria, embora não seja necessariamente desejável ou sustentável no longo prazo. Não faltam críticos mais apocalípticos e intelectuais saudosistas acreditando que estamos caminhando para um futuro inexoravelmente mais triste, mais solitário e até mais ignorante. É absolutamente verdade que quanto mais usamos as telas onipresentes, mais a qualidade das relações com o mundo e com as pessoas muda. Mas o impacto disso ainda está sob o nosso controle – e ele pode inclusive ser bastante positivo. Então por que não estamos fazendo “isso” mais vezes? Todos parecem ter uma desculpa padrão. Talvez ela esteja na sua cabeça agora. É bom tirá-la da frente logo. Quando perguntava às pessoas que boas lembranças tinham dos últimos meses – a fim de entender o que “realmente importa” –, os sorrisos saudosos vinham com um “falta tempo” dito com um suspiro. Parece que falta. Mas não deveria faltar. Porque a tecnologia não está acabando com a nossa vida e o nosso tempo, ela está nos dando mais. Não precisamos mais ir ao banco, ou a um outro setor da empresa para resolver um problema, largamos mão dos Correios e considero não ser mais necessário bater perna em lojas de eletrodomésticos para comparar preços. Pense em todos os serviços delivery que apareceram nos últimos anos, e como é fácil achar qualquer endereço ou telefone. A internet e os smartphones nos deram a chance de nos concentrarmos apenas no que importa. A rede nos dá um mar de possibilidades, e o que fazemos com ela? Gastamos um terço (e cada vez mais) do tempo online apenas nas redes sociais, clicamos em sites com notícias desimportantes e vídeos pouco engraçados e lemos milhares de emails que por algum motivo não caíram na lixeira. No fim do dia, tal como a peixe Dori de Procurando Nemo, não nos lembramos do que fizemos. Só sabemos que é tarde, uma vez que, por conta de tudo isso, acabamos ficando mais tempo nos escritórios, seja para responder àquele último email, seja para escapar do trânsito. Mas vamos nos concentrar na vida profissional por um instante: a tecnologia hiperconectada ao trabalho traz benefícios claríssimos. Quando penso em como, décadas atrás, os jornalistas tinham de descer ao centro de documentação para conferir uma única data, enquanto eu uso um atalho no teclado, faço uma busca no Google e respondo à dúvida com precisão, sinto que deveria estar escrevendo artigos cada vez melhores e mais profundos, em menos tempo. Mas não estou. Ao invés disso, caí no conto da multitarefa, acumulo algumas dezenas de emails por dia e passo horas lendo coisas inúteis. Em vez de ganhar tempo e profundidade, fiquei mais atarefado e superficial em mais níveis que gostaria de admitir. É claro que pessoas diferentes têm níveis de conexão diferentes, mas tenho certeza de que este livro servirá tanto para quem passa o dia todo com o smartphone vibrando, cheio de mensagens, quanto para alguém razoavelmente offline, que está testando a temperatura antes de cair na água. Mesmo quem não está tão online conscientemente, precisa saber lidar melhor com as telas no trabalho, já que um número cada vez maior de empregos envolve estar no computador o dia todo e fazer hora extra com o celular. E quando não estamos fazendo isso, no trabalho, muitos de nós têm uma telinha de smartphone aberta no bolso, uma TV “inteligente” na sala, um notebook no quarto ou um tablet para levar para a cama ou ao banheiro. Se passamos tanto tempo com objetos tecnológicos conectados, é preciso saber como se relacionar com eles, como não gastar tempo ou dinheiro demais com eles e como a sociedade precisa se comportar para não ser engolida pela tecnologia. A informação, os dispositivos e a conexão estão ágeis demais. É importante avaliar a nossa relação com tudo isso. “Você precisa escrever um livro com essas dicas de tecnologia”, era o que ouvia de amigos, toda vez que indicava um aplicativo que melhorava a vida cotidiana ou um atalho do navegador para economizar milissegundos. Quando tive a ideia de escrever este livro, estava no meu terceiro ano como editor-chefe do Gizmodo Brasil, um blog de tecnologia independente, acessado por mais de um milhão de pessoas todo mês. Já tinha participado das principais feiras de tecnologia do mundo, de Las Vegas ao Japão, conhecendo as novidades que fariam parte do cotidiano das pessoas anos mais tarde. Toda semana, tinha um gadget novo em casa ou no bolso e testava smartphones, tablets e TVs 3D antes de eles chegarem ao mercado. Era um trabalho invejável, divertido, que poderia ser bem aproveitado em um “guia de compras” e dicas, numa versão estendida. Mas quando eu parei para pensar, a minha necessidade de escrever o livro vinha justamente do esgotamento do assunto tecnologia. A minha sensação é que os jornalistas e leitores ficavam muito ligados às especificações do produto (os gigahertz, polegadas e sistemas operacionais) e deixavam de lado o que importava na tecnologia: de que maneira ela tornava a vida fora da tela mais rica. “Tecnologia é um meio, não um fim”, virou o meu slogan oficial. Eu defendia, por exemplo, a ideia do tablet não por ser ele um “notebook mais leve”, mas porque com o iPad redescobri minha paixão por histórias em quadrinhos e pude assinar revistas estrangeiras, além de soltar a imaginação mexendo com fotos e jogando jogos de tabuleiro com amigos distantes. Mas era difícil defender essas questões subjetivas perante uma plateia ansiosa por comparativos técnicos e testes de laboratório, a minha labuta diária no Gizmodo. E à medida que fui pesquisando para selecionar as maneiras como a tecnologia enriquecia nossas vidas, quais as melhores ferramentas e programas, passei a entender melhor a influência deles sobre os nossos comportamentos. Será que o limite de 140 caracteres imposto às mensagens no Twitter e a opção única de “gostar” no Facebook mudam de alguma forma o nosso discurso e as nossas relações? Qual o impacto da multitarefa na nossa produtividade? E o papel das redes sociais no discurso político e nas manifestações populares de 2013? Existe algo como uma overdose de informação? A pirataria digital é a popularização da cultura ou o empobrecimento da arte? Quais os efeitos da memória perfeita do Google sobre a nossa privacidade? E o vídeogame como aproveitá-lo sem se viciar? Será que, por causa das novas tecnologias, esta é a “geração superficial”, como sugeriu Nicholas Carr em seu controverso livro, ou será que estamos “sozinhos, juntos, e esperamos mais da tecnologia do que das pessoas”, como prega Sherry Turkle? Há muitas perguntas no ar e poucas respostas definitivas porque estamos passando por um daqueles raros momentos da história em que a tecnologia muda profundamente a vida das pessoas. E de maneira incrivelmente rápida. Das definições dos transtornos psiquiátricos às regras de etiqueta, tudo está mudando enquanto você lê estas páginas. Mais importante do que dar soluções para o que nos aflige nas relações com a tecnologia, quero suscitar reflexões e debates. Mas o que eu quero mesmo é que, ao final de cada capítulo, você tenha vontade de dar uma olhada na sua lista de amigos do Facebook, pegue o telefone e ligue para alguém que não vê há algum tempo, convidando-o para um jantar. Quero que vasculhe na internet uma receita interessante, prepare uma playlist que tem a ver com as preferências das suas visitas e as receba em casa, ou saia para algum bar recomendado naquele aplicativo de smartphone. Experimente deixar o celular no bolso, tirar fotos mentais, sorrir mais e escrever menos “risos”. No fim, conte quantos convidados dirão: “Precisamos fazer isso mais vezes”. Todos nós precisamos. Introdução “Cada nova tecnologia é uma reprogramação da nossa vida sensorial.” – Marshall McLuhan1 Usar ferramentas não é uma exclusividade do ser humano. Outros animais, como os castores, as formigas e até os polvos são capazes de criar tecnologias para modificar seu ambiente e aumentar as chances de sobrevivência. Era o que fazia o nosso parente direto mais antigo, o Homo habilis, que surgiu no Leste da África há cerca de 2,5 milhões de anos. Ele não era muito melhor que os outros macacos, mas usava o seu cérebro de 630 cm³ (maior que o dos primatas da época, mas equivalente à metade do que temos hoje) para jogar pedras em outros animais e usar ossos e gravetos como ferramentas rudimentares. Os habilis, que não eram tão habilidosos, viveram assim por 25 mil gerações, até basicamente sumir do mapa, provavelmente porque não se adaptaram às mudanças climáticas. Eles precisavam de tecnologias melhores. Depois da extinção do habilis, que mal andava em pé, outros membros do gênero homo apareceram, com cérebros cada vez maiores. Algumas ossadas datadas de até 1,7 milhão de anos atrás mostram que outros “homens das cavernas” (como o Homo erectus, espécie que veio depois do habilis) estiveram por toda a parte, da África e Europa até a China. Naquela época e por milhares de anos depois, as ferramentas dos hominídeos não mudaram significativamente e os agrupamentos eram pequenos. A tecnologia se limitava aos instrumentos de caça e ainda não tinham sido inventadas roupas ou mesmo cabanas (a expressão “homem das cavernas” não existe à toa), o que restringia a colonização a zonas tropicais e os tornava bastante suscetíveis às mudanças mais drásticas do ambiente. Os homens e as mulheres daquele tempo comiam os animais que conseguiam matar e as frutas e vegetais que colhiam. O futuro dos homens das cavernas não parecia dos mais brilhantes, especialmente porque eles não eram amigos do meio ambiente: qualquer animal grande e relativamente lento virava comida e 90% de todas as espécies da megafauna (como o mamute) desapareceram na época dos nossos ancestrais por falta de consciência ecológica.
Description: