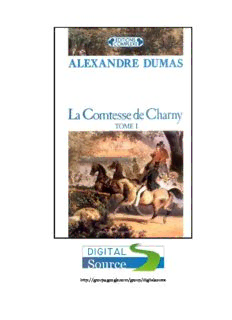Table Of Contenthttp://groups.google.com/group/digitalsource
Memórias de um médico:
A condessa de Charny
Volume I
Alexandre Dumas
PRÓLOGO
Os nossos leitores, que, por que assim digamos, se nos têm de algum modo enfeudado,
que nos seguem por toda a parte, que têm por curiosidade nunca abandonar, nem sequer nos
seus desvios, um homem que, como nós, empreendeu a tarefa ingente de desenrolar folha por
folha cada página da monarquia, compreenderam decerto, ao ler a palavra fim por baixo do último
folhetim do Ângelo Pitou, no jornal a Presse, e mesmo por baixo da última página do oitavo
volume publicado pelo nosso editor e amigo Alexandre Cadot, que havia nisso algum erro
monstruoso, que mais dia menos dia lhes explicaríamos.
De facto, como é possível supor que um autor, cuja principal pretensão, porventura
deslocada, é saber fazer um livro com todas as condições convenientes, do mesmo modo que um
arquitecto tem a pretensão de saber construir uma casa com todas as suas condições, abandone
um o livro no meio do seu interesse, outro a casa no terceiro andar?
E, todavia, seria o que se dava com o pobre Ângelo Pitou, se o leitor tomasse a sério a
palavra fim colocada justamente no lugar mais interessante do livro; isto é, quando o rei e a rainha
se resolvem a deixar Versalhes por Paris, quando Charny principia a conhecer que uma mulher
encantadora, que pelo espaço de cinco anos lhe não merecera a menor atenção, cora no
momento em que os seus olhares se encontram, ou em que as suas mãos se acham em contacto;
quando Gilberto e Billot mergulham um olhar sombrio mas resoluto no abismo revolucionário
que se abre diante deles, cavado pelas mãos monárquicas de Lafayette e Mirabeau, que
representam maravilhosamente um a popularidade, o outro o génio da época; quando finalmente
o pobre Ângelo Pitou, o herói humilde desta humílima história, tem atravessado nos joelhos, a
meio da estrada de Villers-Cotterets a Pisseleux, Catarina desmaiada ao último adeus do seu
amante, que através dos campos, ao galope do seu cavalo, alcança, acompanhado pelo criado, a
estrada de Paris.
Além disso, figuram ainda neste romance outros personagens, secundários é verdade, mas
a quem queremos crer que os nossos leitores tiveram a bondade de acolher com algum interesse;
e todos sabem que é nosso costume, quando pomos um drama em cena, seguir até a mais
vaporosa distância do teatro, não só os seus principais heróis, senão também os mais
insignificantes comparsas.
Temos o abade Fortier, esse rígido monarquista, que decerto se não prestará a
transformar-se em padre constitucional, e preferirá a perseguição ao juramento.
Temos o jovem Sebastião Gilberto, composto das duas naturezas, em luta naquela época,
dos dois elementos em fusão havia dez anos, do elemento democrático herdado do pai e do
elemento aristocrático que herdou da mãe.
Temos a Srª. Billot, pobre mulher, mãe antes de tudo, que cega como mãe, acaba de
deixar a filha na estrada por onde passou, e que sozinha se recolhe à sua granja, tão solitária
depois da partida de Billot.
Temos o tio Clouis com a sua cabana no meio da floresta, e que ainda não sabe, se, com a
espingarda que Pitou acaba de lhe dar, em troco daquela que lhe levou dois ou três dedos da mão
esquerda, matará, como matava com a primeira, cento e oitenta e duas lebres e outros tantos
coelhos, nos anos ordinários, e cento e oitenta e três nos anos bissextos.
Temos finalmente Cláudio Tellier e Desiré Maniquet, esses revolucionários de aldeia, que
almejam por seguir a pista dos revolucionários de Paris, mas a quem o honrado Pitou, seu
capitão, seu major, seu coronel, seu oficial superior, enfim, há-de servir, como devemos esperar,
de guia e de freio.
Quanto acabamos de dizer não pode deixar de renovar o pasmo do leitor quando se lhe
deparou a palavra fim, tão singularmente colocada no capítulo que ele termina, que suporia ser a
antiga esfinge acocorada à entrada do seu antro no caminho de Tebas, propondo aos viajantes
beócios um enigma insolúvel.
Daremos pois a explicação deste enigma.
Houve um tempo em que os jornais publicavam simultaneamente:
Os Mistérios de Paris, de Eugênio Sue.
A Confissão geral, de Frederico Soulié.
Mauprat, de George Sand.
O Conde de Monte-Cristo, O Cavaleiro da Casa Vermelha e A Guerra das Mulheres, obras minhas.
Esse tempo era o bom tempo do folhetim, mas era também o tempo mau da política.
Quem se ocupava então dos artigos de fundo dos srs. Armand Bertin, Dr. Véron e
deputado Chambolle? Ninguém.
E tinham razão; porquanto, não tendo restado coisa nenhuma desses desgraçados artigos,
é que não valia a pena que deles se ocupassem.
Tudo quanto tem um valor qualquer anda sempre ao cima de água, e arriba sempre a
alguma parte.
Só existe um mar que absorve para sempre quanto lhe lançam. É o mar Morto.
É provável que fosse nesse mar que os artigos de fundo de 1846, 1847 e 1848 foram
lançados.
Então com esses artigos dos Sr. Armand Bertin, Dr. Véron e deputado Chambolle,
também lançaram de envolta naquele mar os discursos dos srs. Thiers e Guizot, dos srs. Barrot e
Berryer, dos srs. Molé e Duchâtel, o que pelo menos devia enfadar tanto os srs. Duchâtel, Molé,
Berryer, Barrot, Guizot e Thiers, como os srs. deputado Chambolle, Dr. Véron e Armand Bertin.
É verdade que em troca disso se coordenavam com o maior esmero os folhetins dos
Mistérios de Paris, da Confissão geral, de Mauprat, do Conde de Monte-Cristo, do Cavaleiro da Casa
Vermelha e da Guerra das Mulheres, os quais, depois de se lerem pela manhã, se punham de lado
para à noite se tornarem a ler.
É verdade que isso produzia muitos assinantes aos jornais, e muitos clientes aos gabinetes
de leitura; é verdade que isso ensinava a história aos historiadores e ao povo; é verdade que isso
criava à França quatro milhões de leitores, e cinqüenta milhões ao estrangeiro; é verdade que a
língua francesa, vertida em língua diplomática, desde o décimo sétimo século, considerava-se
língua literária no décimo nono; é verdade que o poeta, que ganhava dinheiro suficiente para se
tornar independente, escapava à pressão que a aristocracia e a realeza exerciam até ali sobre ele; é
verdade que se criava na sociedade uma nova nobreza e um novo império: era a nobreza do
talento e o império do génio; é verdade, finalmente, que isso trazia consigo tão grandes e
honrosos resultados para os indivíduos, tão gloriosos para a França, que se ocuparam seriamente
de fazer cessar um estado de coisas que produzia essa desorganização social, que ia dar a devida
consideração aos homens que a merecessem, que ia fazer com que a glória e até o dinheiro
pertencessem àqueles que verdadeiramente adquiriram estes dons.
Os homens de Estado de 1847 iam pois, como já disse, ocupar-se seriamente de dar este
escândalo, quando ocorreu a idéia ao Sr. Odillon Barrot, que da sua parte também se queria
tornar saliente, de não recitar na tribuna pomposos discursos, mas de dar miseráveis jantares nos
diferentes locais em que o seu nome era ainda respeitado.
Era necessário, contudo, dar um nome a esses jantares.
Em França pouco importa que as coisas tenham o nome que lhes convém, contanto que
tenham um nome qualquer.
Foi por isso que chamaram a esses jantares banquetes reformistas.
Havia então em Paris um homem que, depois de ser príncipe, fora general; depois de ser
general, exilado; sendo exilado, fora professor de geografia; depois de ser professor de geografia,
viajara na América; depois de viajar na América, residira na Sicília; depois de haver desposado a
filha de um rei, entrara novamente em França; e que depois de entrar novamente em França e ser
elevado à dignidade de alteza real por Carlos X, acabara por se fazer rei. Esse homem era Sua
Majestade Luís Filipe I, eleito do povo.
Pelo menos assim se apelidam antes de os enviarem a Santa Helena ou a Hollywood, a
Clearmont ou a outros lugares.
Esse homem, que era eleito do povo, e que depois de se ver obrigado a viver do seu
subsídio como emigrado a quem o rei Luís XVIII restituíra todos os seus bens, que podia não lhe
restituir, por isso que todos os bens tinham sido vendidos para pagar as dívidas paternas; esse
homem, a quem o rei Luís XVIII restituíra o Palais-Royal, Neuilly, le Raincy Eu, Villers-
Cotterets, seus bens paternos, seus apanágios, que sei eu! Esse homem, que, chegando a ser rei,
guardara, não só todos aqueles bens, a que não tinha direito, visto que a primeira lei do estado a
isso se opunha: esse homem, que não só se apropriara de tudo isso, mas a quem ainda deram de
doze a quinze milhões de lista civil, as Tulherias, Saint-Cloud, Rambouillet, Fontainebleau, Blois,
quinze castelos reais com seus bosques, plainos, parques, dependências, rendimentos e abundante
caça; esse homem, que era rei de França, isto é, rei desse reino que Maximiano, se fosse Deus,
teria deixado ao seu filho segundo, como o império mais belo que poderia haver depois do
império do Céu; esse príncipe, esse general, esse professor, esse viajante, esse rei, numa palavra,
esse homem, a quem a desgraça e a prosperidade deviam ter ensinado tantas coisas, sem nada ter
aprendido; esse homem concebeu a idéia de proibir ao Sr. Odillon Barrot que desse os seus
banquetes reformistas, persistiu nessa idéia, sem se lembrar de que era a um princípio que
declarava guerra, e como todo o princípio nos vem de cima, e é por conseqüência mais forte do
que quem surge de baixo; como todo e qualquer anjo deve esmagar o homem com quem luta,
ainda que fosse Jacob, o princípio esmagou o homem, e o rei Luís Filipe foi derrubado com a sua
dupla geração de príncipes, com os seus filhos e os seus netos.
Não diz a Escritura: O erro dos pais cairá sobre os filhos até à terceira e quarta geração?
Fez isso grande estrondo em França, para que por muito tempo se não ocupassem, nem
dos Mistérios de Paris, nem da Confissão geral, nem de Mauprat, nem do Conde de Monte-Cristo, nem do
Cavaleiro da Casa-Vermelha, nem da Guerra das Mulheres, nem sequer, forçoso é confessá-lo, dos
seus autores.
Não, só se ocupavam de Lamartine, de Ledru-Rollin, de Cavaignac e do príncipe Luís
Napoleão.
Mas, como por fim se restabelecesse algum remanso, e se observasse que todos estes
senhores eram infinitamente menos divertidos do que Eugénio Sue, Frederico Soulié, George
Sand, e até do que eu, que humildemente me coloco em último lugar, reconheceu-se então que a
sua prosa, à excepção da de Lamartine, não era para comparar com a dos Mistérios de Paris, da
Confissão geral, do Mauprat, do Conde de Monte-Cristo, do Cavaleiro da Casa Vermelha e da Guerra das
Mulheres, e por isso convidaram o Sr. de Lamartine, sabedoria das nações, a fazer alguma prosa,
conquanto que não fosse política, e os outros cavalheiros, inclusivamente eu, a fazê-la literária.
Foi justamente a este trabalho que desde logo nos dedicámos, sem que fosse preciso
convidar-nos para isso.
Tornaram então a aparecer os folhetins, os artigos de fundo tornaram a desaparecer;
continuaram então a falar sem eco os mesmos faladores que falavam antes da revolução, que
falaram depois dela e que nunca deixarão de falar.
No número de todos estes faladores havia um que não falava, pelo menos por costume.
Era considerado por isso, saudavam-no todos quando passava com a sua fita de
representante.
Subiu um dia à tribuna... Ah! É necessário dizer-lhes o nome, mas esqueci-o.
Subiu um dia à tribuna... Ah! É necessário dizer-lhes uma coisa: estava nesse dia de muito
mau humor.
Paris acabava de escolher para seu representante um desses homens que compunham
folhetins.
Do nome desse homem me recordo eu. Chamava-se Eugénio Sue.
A câmara estava pois de muito mau humor, por ter sido eleito Eugénio Sue; tinha deste
modo sobre os seus bancos três ou quatro nódoas literárias, que lhe eram insuportáveis.
Lamartine, Hugo, Felix Pyat, Quinet, Esquiros, etc.
Subiu pois à tribuna esse deputado, de cujo nome me não recordo, aproveitando-se
destramente do mau humor da câmara.
Todos emudeceram; todos escutavam.
Disse que o folhetim dera causa a que Ravaillac assassinasse Henrique IV, Luís XIII
assassinasse o marechal d’Ancre, Luís XIV assassinasse Fouquet, Damiens assassinasse Luis XIV,
Louvel assassinasse o duque de Berry, Fieschi assassinasse Luís Filipe, e finalmente, que Praslin
assassinasse sua mulher.
Acrescentou mais:
Que todos os adultérios que se cometiam, todas as concussões que se faziam, todos os
roubos que se perpetravam, de tudo isto era o folhetim a causa.
Que bastava suprimir o folhetim ou impor-lhe um selo para obrigar o mundo a parar
imediatamente, e em lugar de prosseguir no seu caminho em direcção a um abismo, voltaria para
o lado da idade de ouro, onde não poderia deixar de chegar um dia, contanto que recuasse tantos
passos quantos tinha avançado.
Houve um dia em que o general Foy clamava:
“Em França nunca deixam de ecoar as palavras - pátria e honra!”
Sim, é verdade, no tempo do general Foy havia esse eco; nós ouvimo-lo, e muito
folgámos com isso.
Do mesmo modo muito folgámos de ter visto o imperador, que há muito tempo não
víamos, e que, louvado seja Deus, nunca mais veremos.
- Onde está esse eco? - perguntar-nos-ão.
- Qual eco?
- O eco do general Foy.
- Está onde estão as velhas luas do poeta Villon, e pode ser que o encontremos um dia.
Esperemos.
Tanto assim é, que nesse dia (não no dia do general Foy) havia na câmara outro eco.
Era um eco singular; - dizia ele:
“É tempo finalmente de ofuscar aquilo que a Europa admira, e que nós vendíamos o
mais caro possível, aquilo que outro qualquer governo daria por nada, se tivesse a ventura de o
possuir”:
“O gênio”.
Cumpre dizer que este pobre eco não falava por sua conta; não fazia mais do que repetir
as palavras do orador.
A câmara, com pequenas excepções, constituiu-se o eco do eco.
Mas ah! é esse o papel que as maiorias representam há quarenta anos; na câmara, como
no teatro, vêem-se tradições bem fatais!
Ora, sendo a maioria de opinião que todos os roubos que se faziam, todas as concussões
que se praticavam, todos os adultérios que se cometiam, eram inquestionavelmente por culpa do
folhetim, que se Praslin envenenara sua mulher; se Fieschi assassinara Luís Filipe; se Louvel
assassinara o duque de Berry; se Damiens assassinara Luís XIV; se Luís XIV assassinara Fouquet;
se Luís XIII assassinara o marechal d’Ancre; finalmente, se Ravaillac assassinara Henrique IV,
todos estes assassínios eram evidentemente obra do folhetim.
A maioria adoptou o selo.
Talvez que o leitor não reflectisse bem no que é o selo, perguntando a si mesmo, como
era possível matar o folhetim por meio do selo, isto é, com o imposto de um centésimo em cada
folhetim?
Quer dizer, o dobro daquilo que se paga ao autor, quando este se chama Eugénio Sue,
Lamartine, Sandeau, Mery, George Sand ou Alexandre Dumas.
É o triplo, é o quádruplo, quando o autor possui um nome honroso; mas contudo nós só
invocamos os nomes que acabamos de citar.
Ora dizei-me: haverá, porventura, grande moralidade num governo em impor sobre
qualquer produção um imposto quatro vezes mais considerável do que o seu valor intrínseco?
Sobretudo quando essa produção é um objecto, cuja propriedade nos contestam, isto é:
“O talento”.
Resulta pois daqui que já não há jornal bastante caro que possa comprar folhetins-
romances.
Resulta daqui que quase todos os jornais publicam folhetins-história.
Que dizeis vós, caro leitor, dos folhetins-história do Constitucionel?
- Ora!
- Pois bem, é isso justamente.
O folhetim morreu.
Eis aí o que queriam os homens políticos, para que se não falasse mais dos homens
literários.
Sem contar que esse sistema impele o folhetim para uma vereda muito moral.
Por exemplo, vêm-me propor, a mim que fiz O Conde de Monte-Cristo, Os Três Mosqueteiros,
A Rainha Margot, etc., vêm-me propor que faça a história do Palais-Royal.
Uma espécie de conta em partida dobrada muito interessante.
Dum lado casas de jogo; do outro casas de alcouce.
Vêm-me propor a mim, o homem religioso por excelência: A história dos crimes dos papas.
Vêm-me propor... Não posso dizer-lhes o que me vêm propor.
Ainda nada seria, se não fizessem mais do que propor-me que faça.
Mas vêm-me propor que não faça mais!
Deste modo recebi um dia de Emílio de Girardin a seguinte carta:
“Meu caro amigo
Desejo que Ângelo Pitou não contenha mais de meio volume em lugar de seis, que dez
capítulos em lugar de cem.
Tome as suas medidas como lhe parecer, e corte, se não quer que eu corte.”
Por Deus! Compreendi-o perfeitamente!
Emílio de Girardin tinha as minhas Memórias nos seus velhos cartões; preferiu publicar as
minhas Memórias que não pagavam selo, a Ângelo Pitou que o pagava.
Foi por isso que me suprimiu seis volumes de romance para publicar vinte volumes de
Memórias.
Eis aqui, querido e muito amado leitor, o que deu lugar a que a palavra fim fosse colocada
antes do fim, o que deu lugar a que Ângelo Pitou fosse estrangulado à maneira do imperador
Paulo I, não pelo pescoço, mas sim pelo meio do corpo.
Mas vós bem o sabeis pelos Três Mosqueteiros, que duas vezes julgastes mortos, e que duas
vezes ressuscitaram: os meus heróis não se estrangulam tão facilmente como os imperadores.
Pois o mesmo que aconteceu aos Três Mosqueteiros acontece agora a Ângelo Pitou, que não
tinha morrido, mas que só desaparecera; vai tornar a aparecer, e peço-vos, no meio destes tempos
de barulhos e de revoluções, que acendem tantos fachos e apagam tantas velas, que não
considereis os meus heróis no número dos finados sem que de mim recebam participação
assinada do meu próprio punho.
E ainda assim!...
I
A taberna da ponte de Sèvres
Se o leitor quiser ter a condescendência de se lembrar por um momento do nosso
romance Ângelo Pitou e, abrindo o segundo volume, correr a vista peio capítulo intitulado A noite
de 5 para 6 de Outubro, há-de encontrar nele alguns factos, que importa rememorar antes de dar
começo à leitura deste livro, a que dão princípio os acontecimentos da madrugada do dia 6 do
mesmo mês.
Depois de citar algumas linhas importantes desse capítulo, resumiremos em poucas
palavras os factos que devem preceder o prosseguimento da nossa narrativa.
Eis aqui essas linhas:
“Até às três horas, repetimos, não houvera novidade. A própria Assembléia ficara
descansada, e, em vista das partes que tinham dado os meirinhos, levantara a sessão.
Todos esperavam que o sossego não fosse perturbado.
Todos se enganaram.
Em quase todos os movimentos populares, que precedem as grandes revoluções, há um
tempo de espera, durante o qual todos se persuadem que tudo está acabado e se pode dormir
descansado.
É uma ilusão
Por detrás dos homens que operam os primeiros movimentos, estão os que esperam que
esses movimentos se tenham efectuado, e que os seus autores, fatigados ou satisfeitos, não
querendo ir mais adiante, se entreguem ao repouso.
É então que esses homens desconhecidos, agentes misteriosos de paixões fatais, saem por
entre as trevas, apoderam-se do movimento no ponto em que foi abandonado, e levando-o aos
últimos limites, espantam ao acordar os que lhes abriram o caminho e retiraram a meio da obra,
julgando haverem alcançado o seu fim e concluído a sua empresa.”
Três desses homens já nós nomeámos no livro donde copiámos as poucas linhas que
acima deixamos transcritas.
Que nos seja permitido introduzir na nossa cena, isto é, à porta da taberna da ponte de
Sèvres, um personagem, que por não ter sido nomeado por nós, nem por isso deixara de
representar nessa terrível noite um importante papel.
Era um homem de quarenta e cinco a quarenta e oito anos, vestido de jornaleiro, isto é,
com um calção de bombazina, garantido por um desses aventais de couro com bolsos, como
usam os ferradores e os serralheiros; calçava meias pardas e sapatos de fivelas de cobre; trazia na
cabeça uma espécie de boné de pele, cortado pelo meio, semelhante aos bonés dos hulanos;
bastos e já encanecidos cabelos apareciam por baixo do boné e juntavam-se às enormes e
espessas sobrancelhas, que com eles se confundiam; grandes olhos à flor do rosto, vivos e
inteligentes, cujo reflexo era tão rápido, e a graduação da cor tão volúvel, que fora difícil dizer se
eram verdes ou pardos, azuis ou pretos: tinha o nariz bastante saliente, beiços grossos, dentes
brancos e a cútis queimada pelo Sol.
Sem ser alto, era admiravelmente bem constituído; tinha os pés pequenos e também se
notava, através da cor bronzeada dos jornaleiros costumados a trabalhar o ferro, que as mãos
eram assaz belas e delicadas.
Mas subindo das mãos aos cotovelos, e destes até ao lugar do braço onde a camisa
arregaçada descobria o princípio de um bíceps vigorosamente desenhado, poder-se-ia ver que,
apesar do vigor da musculatura, a pele que a cobria era fina, quase aristocrática.
Este homem estava de pé, como já dissemos, à porta da taberna da ponte de Sèvres, e
trazia consigo uma espingarda de dois canos, com ricos embutidos de ouro, em cujo cano se
podia ler o nome de Leclèrc, espingardeiro que principiava a adquirir voga entre a aristocracia dos
caçadores parisienses.
Talvez nos perguntem como era que nas mãos de um simples jornaleiro se encontrava
arma tão boa.
A isto responderemos que em dias de alvoroço - e alguns presenciámos nós - nem
sempre as armas mais ricas se vêem nas mãos mais mimosas.
Aquele homem chegara de Versalhes havia cerca de uma hora, e sabia perfeitamente o
que se passara, por isso que às perguntas que o taberneiro lhe fizera, servindo-lhe uma garrafa de
vinho, respondera:
Que a rainha vinha com o rei e com o delfim.
Que partira próximo do meio-dia.
Que se decidira finalmente a habitar o palácio das Tulherias, o que faria que no futuro
não faltasse provavelmente pão em Paris, visto que ia ter padeiro, padeira e o mocinho do
padeiro.
E que estava ali para ver passar o cortejo.
Esta última asserção podia ser sincera, e contudo era fácil notar que o olhar se dirigia
mais curiosamente para o lado de Paris do que para Versalhes, o que parecia inculcar que se não
julgara obrigado a declarar ao taberneiro a sua verdadeira intenção.
Passados alguns momentos, a sua expectativa foi completamente satisfeita: um homem
vestido quase como ele, e parecendo exercer a mesma profissão, avistou-se no alto da subida que
limitava o horizonte da estrada.
Esse homem caminhava com passo pesado, e como viageiro fatigado.
À proporção que se aproximava, tornava-se mais fácil observar-lhe as feições e a idade.
Esta correspondia à do desconhecido, isto é, podia-se afirmar afoitamente, como diz a
gente do povo, que declinava já para os seus quarenta.
Quanto às feições, eram as de um homem ordinário, de baixas inclinações, de instintos
vulgares.
O olhar perscrutador do desconhecido fixou-se curiosamente nele, com singular
expressão, e como se quisesse medir num simples lance de olhos o que se poderia extrair de
impuro e de mau do coração daquele homem.
Quando o operário que vinha do lado de Paris estava apenas a uns vinte passos de
distância do homem que esperava à porta da taberna, entrou este, despejou o vinho da garrafa
num dos dois copos que estavam em cima da mesa, e voltando para a porta com o copo na mão,
disse:
- Eh! Camarada! O tempo vai frio e a estrada é comprida; não seria bom bebermos um
copo de vinho para nos animar e aquecer?
O operário que vinha do lado de Paris olhou em volta de si, como para ver se era com
efeito a ele que o convite se dirigia.
- Fala comigo? - perguntou ele.
- Com quem diabo quer que eu fale, se não está aqui mais ninguém?
- E oferece-me um copo de vinho?
- E porque não?
- Ah!
- Acaso não somos nós do mesmo ofício?
O operário olhou outra vez para o desconhecido.
- Todos podem ter o mesmo ofício; o caso está em saber se somos oficiais ou mestres.
- Pois será isso o que havemos de verificar, conversando um pouco, depois de bebermos
um copo de vinho.
- Pois seja - disse o operário encaminhando-se para a porta da taberna.
O desconhecido apontou para a mesa, e apresentou-lhe o copo.
O operário pegou nele, examinou o vinho, como se concebesse alguma desconfiança,
desconfiança que desapareceu quando o desconhecido se serviu de um copo do mesmo líquido.
- Então - perguntou ele - seremos tão orgulhoso que não toquemos com o convidado?
- Não, decerto, pelo contrário, lá vai: À nação!
Os olhos pardos do operário fixaram-se um momento no homem que acabava de fazer
um tal brinde, repetindo depois:
- Eh! Por vida minha! Sim, diz bem: à saúde da nação!
E de um trago deitou abaixo o conteúdo do copo.
Em seguida limpou os beiços com a manga.
- Olá! Este é de Borgonha!
- E já velho, hem! Recomendaram-mo, é excelente; mas assente-se, camarada, ainda resta
algum na garrafa, e na adega não falta.
- Então, diga-me - perguntou o operário - o que faz o senhor aqui?
- Bem vê, venho de Versalhes, e espero pelo cortejo para o acompanhar a Paris.
- Qual cortejo?
- Ora! O do rei, da rainha e do delfim, que voltam para Paris em companhia das mulheres
do mercado, de duzentos membros da Assembléia, e debaixo da protecção da guarda nacional e
do Sr. de Lafayette.
- Então sempre se decidiu a ir para Paris o nosso querido patrão, hem?
- Que remédio tinha ele?
- Assim me pareceu esta noite, quando, pelas três horas da manhã, parti para Paris.
- Ah! Ah! Partiu esta noite pelas três horas da manhã; e deixou assim Versalhes sem ter
tido a curiosidade de saber o que ali se ia passar?
- Oh! Eu algum desejo tinha de saber o destino do nosso patrão, tanto mais que, sem me
gabar, contraí com ele algumas relações; mas bem sabe que primeiro que tudo está o trabalho; a
gente tem mulher e filhos para sustentar, e já se não pode contar com a forja real.
O desconhecido deixou passar sem resposta alguma as duas alusões.
- Foi então algum trabalho urgente que o obrigou a ir a Paris? - perguntou o
desconhecido.
- Foi, sim; urgente, e bem pago – acrescentou o operário fazendo tinir no bolso alguns
escudos; - é verdade que foi um criado quem me pagou, o que não é lá muito delicado, e de mais
a mais um criado alemão, com quem não pude conversar.
- Então gosta de conversar?
- Que se há-de fazer? Quando se não diz mal dos outros, serve de distracção.
- E até quando se diz, não é assim?
Os dois homens puseram-se a rir.
O desconhecido mostrou uns dentes de jaspe, os do outro, pareciam todos arruinados.
- Então - replicou o desconhecido como homem que avança passo a passo - o trabalho
era urgente e foi bem pago?
- É verdade.
- Alguma fechadura de segredo, hem?
- Uma porta secreta. Imagine numa casa dentro de outra, alguém que desejasse esconder-
se, não é assim? Pois bem, pode-se estar em casa e parecer que não se está; toca-se a campainha,
o criado abre a porta: O senhor? - Não está em casa! – Procure bem. - Pois que o procurem! Dou
um doce a quem for capaz de o encontrar. Uma porta de ferro, uma espécie de caixilho ou
moldura, compreende? Sobre tudo isto há-de assentar-se uma camada de carvalho antigo, e
portanto será impossível distinguir o ferro da madeira.
- Sim, mas batendo-lhe em cima?
- Ora essa! Uma espessa camada de madeira, posta sobre ferro da grossura de uma linha,
não deixará de fazer que o som seja igual. Tique, taque, taque, taque; eu mesmo me iludi.
- E onde diabo fez essa obra?
- Ah! Eis aí...
- O que não quer dizer.
- O que não posso dizer, visto que eu mesmo não o sei.
- Vendaram-lhe então os olhos?
- Nem mais nem menos; esperava-me na barreira um trem. Perguntaram-me; - É fulano?
Respondi que sim. - Bom, é o mesmo que esperávamos, entre. - É necessário que entre? - Sim.
Description:book ou até mesmo a sua troca por qualquer contraprestação é totalmente E que música aplicou a essas canções, a do De Profundis? - Nada